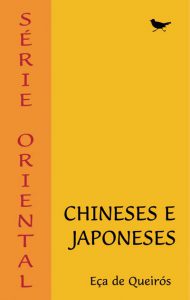A China de Eça
Foi pouco depois de chegar a Macau, em 2010, e de voltar a ler O Mandarim de Eça de Queiroz, que formulei esta pergunta antes inexistente na minha cabeça de leitor: por que decidira Eça escrever uma novela como aquela, situada em ambientes que desconhecia e que, por isso, não eram território preferencial da ficção de um homem que produziu e muito sobre o seu tempo mas também sobre o seu espaço, sobre os lugares que verdadeiramente experienciara e tomara como parte da sua vida? Resumindo, de onde surgira O Mandarim e esse narrador Teodoro que descreve as manhãs de fim de Agosto em Pequim como se lá estivesse?
O meu interesse pelo interesse de Eça nestas partes do mundo funcionou como um novelo que devagar se vai desenrolando. Não era ignorante quanto à carreira diplomática do escritor, mas desconhecia que em Havana – onde esteve de 1872 a 1874 – tivera de lidar com esse flagelo promovido por portugueses que foi o envio de homens desde Macau e de outros portos do sul da China para trabalhar nas plantações de tabaco e de açúcar – trabalho escravo, entenda-se.
Há oito anos, em conversa com Carlos Reis, provavelmente o maior especialista queirosiano dos nossos dias, falou-me o professor pela primeira vez do texto que hoje aqui me traz: Chineses e Japoneses, uma espécie de ensaio publicado por Eça no jornal brasileiro Gazeta de Notícias, em 1894, 14 anos depois de O Mandarim.
Já alguma coisa se escreveu sobre este texto, sobre como nele Eça acaba por reflectir mais sobre a sua condição de estrangeirado e sobre o Ocidente do que propriamente sobre a Guerra da Coreia, conflito entre chineses e japoneses que serviu de mote ao ensaio do autor de O Primo Basílio. Estudiosos da obra queirosiana vêem também neste texto o retrato de um Portugal decadente, cheio de paralelismos com a realidade coreana, que podem começar por encontrar-se logo no primeiro parágrafo, quando o autor escreve que “a nordeste da China, ou antes da Manchúria chinesa, entre o mar do Japão e o mar Amarelo, há uma tristonha península de costas escarpadas (…)”. Essa “tristonha península” podia, está claro, ser a ibérica.
À distância, Eça escreve sobre uma realidade que conhece apenas das leituras que faz e dos relatos de amigos que até ali viajaram, como Bernardo Pinheiro de Melo, Conde de Arnoso, que visitou Pequim em 1887 para a assinatura do primeiro tratado luso-chinês e ofereceu a Eça uma cabaia que o autor chegou a usar.
A peça, restaurada em 1992, pode hoje ser vista na Fundação Eça de Queiroz, em Tormes.
É então a distância que convida à efabulação, ao exagero, à ironia e a outros recursos romanescos que servem o autor na hora de avançar sobre território desconhecido. A Coreia que Eça avista de Paris, onde vivia à época, é “um país tão silencioso, tão recluso, tão separado de toda a humanidade, é o lugar onde existe o “formidável chapéu coreense, muito alto, muito pontiagudo e de abas tão vastas que sob ele um patriarca pode abrigar toda a sua descendência, os seus móveis e os seus gados”.
Ora, é por essa Coreia, “Reino da Serenidade Matutina”, que se debatem o Império Florido do Meio e o Império do Sol Nascente. Eça nota que, contado assim, este conflito parece um “enredo de mágica, ou o começo de um desses romances alegóricos” do século XVIII, tudo a acontecer “numa região de fantasia, onde a política é dirigida pelas fadas e os príncipes são picarescos”.
Detenhamo-nos aqui para dizer que este é um dos aspectos mais actuais do texto de Eça. O final do século XIX e este arranque de século XXI partilham, no que toca à relação do chamado mundo ocidental com o Oriente em geral, e com a China em particular, duas características de grande importância: um genuíno interesse por compreender o outro por parte de um reduzido número de autores, investigadores e viajantes; e um profundo desconhecimento generalizado do grosso da população, bem como da maior parte dos viajantes (e por que não dizer também dos expatriados) em relação às culturas orientais de que nunca se aproximaram ou que atravessaram como quem folheie às pressas um livro que nunca há-de ler. Por isso se fantasia aquilo que acontece na China, na Coreia, no Japão. Tendemos a infantilizar ou ridiculizar aquilo que desconhecemos.
Hoje, basta pensar na Coreia do Norte e nas verdades absolutas, mais ou menos disparatadas, que no Ocidente se constroem à sua volta. Porque não compreendemos ou não queremos compreender, fazemos filmes à moda de Hollywood em que um repórter tem por missão visitar Pyongyang e assassinar o Querido Líder (A Entrevista, 2014), cristalizamos estereótipos de que todos os chineses são iguais, de que todos os asiáticos comem coisas estranhas, e por aí em diante.
Eça ri-se da ignorância do seu tempo, mas não é uma gargalhada leve, como a nossa não deve ser. “Para o europeu, o chinês é ainda um ratão amarelo (…), cheio de manias caturras (…), que come vertiginosamente montanhas de arroz com dois pauzinhos e passa a vida por entre lanternas de papel, fazendo vénias”. É certo que talvez o exotismo da descrição de Eça seja hoje anacrónico, mas não andamos longe.
O autor nota, por outro lado, que o chinês continua a olhar o homem ocidental como um ser inferior. Desde o século XVI que os forasteiros chegados às costas da China apareceram aos locais como “grotescos e hirsutos de figura, grosseiros e brutais de maneiras”, gente para quem “a arte de viver se resumia à arte de mercadejar”. “Desde então, a ideia do homem europeu ficou associada no celeste império à ideia do homem maléfico”, escreve Eça.
É verdade que ainda hoje os estrangeiros são vulgarmente tratados na China por 鬼佬guǐlǎo (mandarim) gwáilóu (cantonês, Yale), que significa homem fantasma ou diabo estrangeiro, e que algumas classes da sociedade chinesa não se misturam de todo com os expatriados. Isto seria tema para todo um outro texto mas, nas exageradas palavras de Eça, lembremos apenas que “todos os outros europeus que, desde a abertura dos portos, se estabeleceram na China e a visitaram, não melhoraram esta impressão de desconfiança e desprezo”.
A amostra de uma comunidade migrante pode ser redutora e terrivelmente desequilibrada. Avaliar os portugueses pelas comunidades radicadas em França ou na Suíça é incalculavelmente diferente de fazê-lo a partir daqueles que vivem em Macau – e aqui ‘diferente’ está muito longe de significar melhor ou pior. Certo é que nas últimas décadas também se estabeleceu uma narrativa da população chinesa a partir da comunidade migrante presente em Portugal. Como para o chinês letrado de 1500 os portugueses pouco mais eram que uns brutos, para muitos portugueses aburguesados do século XXI, todos os chineses têm uma daquelas lojas que vende toda a sorte de objectos ou, quando muito, têm um restaurante. São, assim, gente que vive da “arte de mercadejar”.
Isto leva-me ao último aspecto que gostaria de focar: a forma por vezes surpreendentemente precisa como Eça previu o que iria acontecer no que toca à diáspora chinesa. Face a uma possível derrota militar perante o Japão na disputa pela Coreia, Eça treslê a necessidade de a China fazer o mesmo caminho do Império do Sol Nascente, modernizar-se, ocidentalizar-se até, aceitar o progresso científico e tecnológico de uma civilização (ocidental) que desprezava. Feito isto, “em vinte anos, em menos a China pode ser a mais poderosa nação militar da terra”.
O autor de Os Maias não preconiza, no entanto, uma ofensiva militar da China sobre o resto do mundo, pelo contrário. O chinês “virá muito humildemente, muito pacificamente, em grandes paquetes, com a sua trouxa às costas. Virá, não para assolar, mas para trabalhar.”
É notável que, à época, Eça de Queiroz tenha compreendido que “a invasão” aconteceria e que milhões de chineses viriam para o Ocidente, não movidos pelo “espírito errático da aventura” mas com um programa bastante racional de fazer pequena fortuna para depois regressar. Leu também a evolução dos seus misteres e da sua influência nas sociedades em que se integrariam; preconizou o aparecimento de ‘Pequenas Chinas’, Chinatowns que surgiriam por toda a parte, e soube que este seria “um movimento lento, como foi o das hordas bárbaras para dentro do império romano”.
Hoje, bilionários chineses compram eléctricas, bancos, património, empresas de toda a sorte e por toda a parte, compram a própria cidadania, estabelecem fundações e centros culturais mundo fora, oferecem edifícios públicos a países em vias de desenvolvimento e vão definindo, silenciosamente, uma nova ordem mundial. Nós assistimos a tudo não sem algum espanto, como se um dia tivéssemos acordado e a China não fosse mais o país das montanhas de arroz e dos pauzinhos de que fala Eça. Talvez prestar mais atenção a Eça e a outros pensadores tivesse sido importante, como continua a ser. Não no sentido de proibirmos ou evitarmos essas migrações, o que teria tanto de impossível como de lamentável, mas de estarmos ao menos preparados para elas e de às tantas não darmos por nós como um autor que nasceu na Póvoa de Varzim e que, de repente, se vê enfiado numa cabaia chinesa.
(Foto de perfil : Eduardo Martins/Festival Literário de Macau)
Sobre a obra
Título
Chineses e Japoneses
Autor
Eça de Queiroz
Ano
1997
Edição
Livros Cotovia
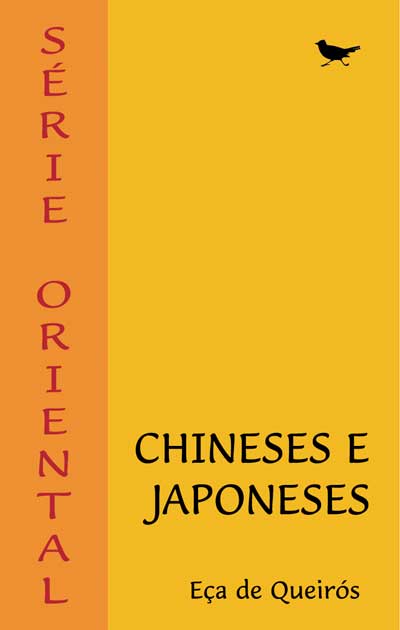
Colecção
Série Oriental
Páginas
76