“Para mim, [a China] é apenas uma história – uma história complicada”

Viviam-se os últimos anos da Guerra Fria. Enquanto a China, saída de um dos períodos mais negros da história contemporânea do país – a Revolução Cultural – se reerguia num novo modelo de desenvolvimento económico, entrava, nos Estados Unidos, na sala de aula de um jovem estudante do secundário. Em 1985, Eric Olander começou a estudar mandarim, uma das “línguas estratégicas”, a par do russo, oferecidas pelo estabelecimento de ensino que frequentava. Tornou-se fluente no idioma em Taiwan, onde fez um ano sabático, antes de se formar em História da África Ocidental, pela Universidade da Califórnia, em Berkeley.
Três décadas e meia passaram-se. A China emergiu como potência dominante e, ao lado de África, tornou-se o objecto principal de estudo de Olander, que entretanto trabalhou como correspondente internacional para vários meios de comunicação social, incluindo a BBC e a Associated Press.
Fundador do projecto jornalístico “The China Africa Project” (CAP), que analisa a presença chinesa no continente africano, Olander procura desviar-se de duas narrativas que, diz, dominam a comunicação social: o discurso céptico e anti-China e, do outro lado, a propaganda de Pequim. “A estes dois extremos falta alguma coisa”, afirma o jornalista.
Numa entrevista ao EXTRAMUROS, Olander, que vive actualmente em Ho Chi Minh, no Vietname, nota um crescente envolvimento chinês em África, resultante, em parte, de uma desmobilização euro-americana da região. “Do lado dos Estados Unidos e da Europa fala-se dos direitos LGBT, de democracia, de boa governação, mas estas são ideias abstractas, que são importantes, mas não são as prioridades mais prementes dos líderes africanos – o emprego, essa é a prioridade”, refere o jornalista, realçando ainda que, em África, a China encontrou um importante apoiante das políticas de Pequim, nomeadamente no que diz respeito a Xinjiang e Hong Kong.
Assistimos nas últimas décadas a uma crescente presença económica, comercial e também militar da China em África. Era incontornável a criação de um portal como o “The China Africa Project”?
Sim, quando em 2005 fui visitar o meu irmão a Kinshasa, na República Democrática do Congo, havia um restaurante chinês. Tirei uma fotografia à frente desse restaurante, e lembro-me de pensar que assim se provava que havia um restaurante chinês em todas as cidades do mundo. Nunca pensei encontrar muitos chineses no Congo, mas quando voltei, em 2006, havia dois restaurantes. Nos anos seguintes, houve um boom e, do nada, víamos chineses em todo o lado. Algo se estava a passar. Lembro-me de ler o Guardian, o Wall Street Journal, o New York Times e os principais meios de comunicação social, e a narrativa era sempre que a China estava a colonizar, a conquistar e a invadir África. Depois, virava-me para a imprensa chinesa, a CCTV ou o Global Times, e a China só fazia coisas boas em África. Estranho, pensei.
Em 2010, mudei-me para Kinshasa, para gerir a produtora do meu irmão, e perguntei a alguns dos trabalhadores locais o que achavam dos chineses. As respostas revelavam inúmeras nuances: gostavam de x, não gostavam de y. Lembro-me de pensar: esta é a minha história. Em 2010, comecei a escrever um blogue sobre isso, em Kinshasa; depois fui para Paris trabalhar como editor-chefe do canal France24 e, como andava mesmo muito ocupado, perguntei no Twitter se alguém me queria ajudar com o podcast e com o website, e o Cobus [van Staden] respondeu. Ao longo de oito ou nove anos, [o “The China Africa Project”] foi uma paixão que fizemos sem financiamento publicitário, corporativo ou governamental. Neste momento, recebemos algum de apoio de fundações, mas a nossa independência editorial é muito importante, porque queremos transmitir uma visão independente e imparcial. A minha alegria pessoal é apontar o dedo à hipocrisia de ambos os lados, do lado chinês, africano, e também norte-americano e europeu. Criámos uma plataforma com 1,5 milhões de seguidores nas redes sociais; são feitos cerca de 50 mil descarregamentos por mês do podcast. Tornou-se algo bastante grande.
Ainda antes desse período em Kinshasa, esteve na China. A primeira vez foi em 1989. O que o levou até lá?
Comecei a estudar chinês em 1985. Na escola secundária, leccionavam chinês e russo, e os novos alunos eram encorajados a frequentar aquilo que na altura se chamavam de línguas estratégicas. Vivia-se a Guerra Fria, e eu pensei que não tinha nada a perder. No início não gostei muito, era difícil, mas é um gosto que se adquire. Quando terminei o secundário, não me sentia preparado para entrar na universidade e fiz um ano sabático em Taiwan, onde comecei a fazer rádio, numa estação norte-americana, e a frequentar um curso intensivo de mandarim. De Taiwan viajei pela primeira vez para o Interior da China, onde vivia um amigo da minha família, e passei aí todo o mês de Dezembro a passear. Estar em Pequim em 1989 foi uma experiência profunda.
Estamos a falar no ano em que ocorreu [o massacre de] Tiananmen. Como se vivia em Pequim nesses tempos?
Foi incrível, lembro-me de ir à Praça de Tiananmen e encontrar ainda fendas dos buracos das balas. No Museu do Exército de Libertação Popular, na Avenida Chang’an, queimaram autocarros [usados pelos estudantes durante o movimento de contestação], porque esta era uma rebelião contra-revolucionária. Tenho imagens desses autocarros queimados, colocados à frente do museu. Era ainda muito recente e as cicatrizes eram visíveis.
Mas neste tema que me diz respeito, a questão China-África, é de destacar que a China era ainda, nessa altura, um país extremamente pobre. Fiquei alojado em casa de uma família de classe média-alta, com alguns privilégios – tinham um hutong – mas, ainda assim, tínhamos de ir buscar a nossa comida com senhas de racionamento. As roupas das pessoas eram de cores neutras – pretas, castanhas, azuis -, todos andavam de bicicleta, não havia telefones. Antes de ir para Pequim, perguntei-lhes se queriam que eu levasse alguma coisa, e eles pediram-me café solúvel. Levei três latas de café Yuban, marca norte-americana de café, e o pai chorou, literalmente, porque tinha café. Esta é uma história estranha para contar nos dias de hoje a um jovem chinês, que cresce com o Starbucks em todos os cantos de Xangai, Pequim ou Xi’an. Mas este episódio conta uma história muito poderosa sobre o desenvolvimento de um país que era mais pobre do que a maioria dos países africanos, nesses anos 90, e que se tornou na segunda maior economia do mundo e, sem dúvida, das mais avançadas tecnologicamente. Estamos a falar de um período de 40 anos, é incrível.

Falando da relação China-África, podemos recuar aos anos 1960, quando Pequim apoiou movimentos de libertação africanos – é o caso de Angola ou Moçambique – através de formação e armamento. Que impacto teve o maoismo nessas regiões durante esse período?
Durante os movimentos anticolonialistas dos anos 1960 e 1970, a China via-se, em muitos sentidos, como líder dos países em desenvolvimento. Isto foi resultado da conferência de Bandung, na Indonésia, onde Zhou Enlai emergiu como uma espécie de força – ambos, Mao [Zedong] e Zhou. Mao e a ideologia por trás da revolução eram fundamentais. Em países como a África do Sul também foi parte da ideologia da revolução. É interessante, porque a relação que a China teve com os partidos comunistas durante a Guerra Fria, em África, corre nas veias de líderes revolucionários como Robert Mugabe, do Zimbabué, e mesmo o actual líder Mnangagwa, formado na China durante os anos 60 e 70, por via desses intercâmbios revolucionários. Eles foram buscar africanos, deram formação ideológica e militar.
Portanto, [o maoismo] tem definitivamente um peso e é parte importante da história de hoje. Quando a China diz ‘somos irmãos’, essa retórica remonta a essa era ideológica maoista, e os chineses não se separam da história. Já nós, norte-americanos, separamo-nos um pouco de partes dessa história. O tempo passa e achamos que já não nos diz respeito.
Voltando ao presente, neste momento em que se observa a escalada das relações entre a China e os Estados Unidos, como é que África se posiciona nessa equação?
A África não quer genuinamente fazer parte de nenhum confronto entre os Estados Unidos e a China. (África) lembra-se do sofrimento passado da última vez que os Estados Unidos tiveram um confronto global com outra superpotência. Não correu bem para África. Ainda se sentem os efeitos na República Democrática do Congo da passagem de Mobutu Sese Seko, que devastou o país e que lá foi posto pelo governo dos Estados Unidos. Esta geração de líderes [africanos] já está no poder há tempo suficiente para se lembrar disso.
Dito isto, o grande desafio é que, neste momento, os europeus e os americanos não estão a trazer muito para cima da mesa, no que diz respeito a estratégias de envolvimento em África, e isso é um grande problema. O comércio com os Estados Unidos e África tem vindo a decrescer progressivamente; os Estados Unidos não apresentam novas estratégias nem novas ideias e o que estão a fazer sobretudo são programas antigos – e de sucesso – como o PEPFAR (Plano de Emergência do Presidente para Combate à SIDA) ou o PMI (Iniciativa do Presidente contra a Malária). São iniciativas muito importantes, mas não são novas ideias.
Esta desmobilização norte-americana acontece com Trump?
Não, já acontece há muito. Donald Trump não é um pioneiro em quase nada, o que ele fez foi acelerar situações que já existiam. As tensões com a China já eram manifestas antes de Trump subir ao poder, mas com ele houve uma intensificação. O mesmo com a política para África. Obama foi muitíssimo fraco na política para África – havia mesmo muito poucos programas, havia o Power Africa – mas nenhum dos presidentes mexeu uma agulha em comparação com os passos gigantes dados pelos chineses, para o melhor e para o pior. Isto porque os Estados Unidos estavam atolados em guerras, no Iraque e no Afeganistão, e nunca consideraram África uma prioridade; a Europa tornou-se condescendente com África, vendo-a como um dado adquirido, e tendo dela uma imagem paternalista e patriarcal, como se tratasse de uma criança; e o negócio da ajuda ao desenvolvimento continuou a injectar dinheiro atrás de dinheiro e a eficácia desse dinheiro para a ajuda é questionável.
Entretanto, os chineses entravam, e eu não digo isto com qualquer tipo de julgamento, mas o facto é que os chineses se aproveitaram da complacência na Europa e da distracção dos Estados Unidos, e tinham todo um mercado à disposição.
Temos de recordar que, em 2004/2005, quando a China começou a pensar a sério numa estratégia para o exterior, e o presidente Hu Jintao começou a pensar na internacionalização das empresas estatais e dos negócios chineses, não conseguiam entrar na Europa porque as barreiras eram imensas: o custo de entrada e o ambiente normativo é muito intenso. O mesmo se passa nos Estados Unidos e no Japão. O Sudeste Asiático tem imenso potencial, mas também é muito complexo, porque nesta parte do mundo os laços históricos dificultam, por vezes, o investimento chinês.
Em África, há poucos obstáculos à entrada, uma população em crescimento e uma importância estratégica. Eles reconhecem essa importância estratégica, tanto em termos geográficos – olhamos para o Egipto e o Djibouti [onde a China tem uma base militar], países idealmente geopolíticos, geoestratégicos em termos de localização -, mas também porque representam 54 votos nas Nações Unidas, na Organização Mundial de Saúde, na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Todo esse potencial diplomático é bastante apelativo.
E foi isso que eu assisti quando comecei a ir a África. A China já construiu, entretanto, tantas infra-estruturas, é o principal destino de estudo dos alunos africanos, o maior parceiro comercial, está a tornar-se num parceiro militar. Há inúmeras camadas neste envolvimento.
E como olham os governos africanos e as populações para este maior envolvimento chinês?
É muito complicado, e qualquer pessoa que diga o contrário está a mentir. Um dos problemas que estava a falar há pouco é a cobertura jornalística de que a China está a colonizar África, essa cobertura muito céptica, anti-China, que é muito comum. E também a propaganda estatal, que é elogiosa e positiva. A estes dois extremos falta alguma coisa.
Então, no que diz respeito às relações ao nível dos governos, a China é extremamente popular. Não existe distância entre os presidentes e primeiros-ministros e o lado chinês. Ao nível da sociedade civil, das pessoas, meios de comunicação social, até políticos, é muito mais complicado.
África tem mil milhões de habitantes, 54 países, inúmeras línguas, inúmeras culturas, e não há uma única visão africana sobre a China.
Então, vamos encontrar pessoas muito chateadas e perturbadas com a China, porque acham que o país está em conluio com os seus governos contra os seus interesses. Há níveis baixíssimos de confiança nos governos africanos por parte dos eleitores africanos, que olham para os laços ao nível governamental e dizem: os chineses foram para a cama com estes líderes corruptos, por isso não gosto de chineses. Mas depois viram-se e têm um telefone Huawei, ouvem a chinesa Boomplay, que é o serviço número um de música em África, compram produtos chineses, vêem telenovelas chinesas na StarTimes. Ou seja, há muitos pontos de encontro com a China no dia-a-dia africano e que não existem com os europeus ou norte-americanos. E isto é como todas as relações – quanto mais intensas, mais complicadas.
Outro posicionamento em África é através da gigantesca iniciativa internacional de infra-estruturas, lançada por Xi Jinping, ‘Uma Faixa, Uma Rota’, que ainda não se percebeu bem o que é. Parece que todos os projectos chineses em África foram postos neste pote. Tem sido criticado um pouco por todo o mundo. Como olha para essas críticas?
Temos de ver quem critica, porque os media africanos não o fazem.
Governos europeus, por exemplo.
Sim, mas isso não é todo o mundo. Muitas vezes temos este preconceito, nos Estados Unidos e na Europa. Por exemplo, uma investigação do PEW Research Center (Estados Unidos) concluiu que a popularidade da China no mundo está a cair. Não, não está, é na Europa e nos Estados Unidos.
Está a dizer que não se têm ouvido críticas em África?
Têm, mas é diferente. Nos Estados Unidos e na Europa é um tipo de crítica mais ideológica. Existe um medo do Partido Comunista Chinês nestes países e em África é mais complexo do que isso, no sentido que as elites que governam adoram a China e, já agora são estas elites que controlam os meios de comunicação social estatais em lugares como o Egipto e o Uganda, e, por isso, não nos apercebemos [destas críticas] através dos media.
Muitas pessoas diriam que isto são só os chineses a pagar aos líderes africanos, a suborná-los, e isso é tão ofensivo, porque implica que os líderes africanos não têm interesse geoestratégico, na segurança nacional e na estratégica, e que estão simplesmente dependentes. Existem líderes corruptos? Sim, não posso dizer ao certo se líderes da nova geração de governantes, como o primeiro-ministro Abiy Ahmed, da Etiópia, ou o [presidente] João Lourenço, de Angola, são corruptos, mas, no final de contas, vejo geopolítica nas decisões tomadas. Temos de perceber também que a idade mediana no continente africano é de 19,7 anos. Trata-se do continente com maior crescimento no mundo. Em África, estes líderes estão a fitar o cano de uma espingarda demográfica, e isso quer dizer que, daqui a quatro ou cinco anos, vão ter um problema se ainda não tiverem encontrado uma forma de pôr estes jovens a trabalhar.
Não estou a falar de problemas simples, mas de centenas de milhões de novas bocas para alimentar nos próximos dez anos. E nós sabemos que jovens sem nada para fazer nunca dá bom resultado, seja em que país for. Portanto, os chineses vêm até à mesa de negociação e dizem: ouçam, temos um pacote de financiamento, adorávamos construir infra-estruturas, vocês precisam de infra-estruturas para impulsionar a vossa economia para a industrialização, de forma a pôr todas estas pessoas a trabalhar. É isso que acontece do lado chinês. Do lado dos EUA e da Europa fala-se dos direitos LGBT, de democracia, de boa governação, mas estas são ideias abstractas, que são importantes, mas não são as prioridades mais prementes dos líderes africanos – o emprego, essa é a prioridade.
Precisamente nesse capítulo dos direitos humanos. Qual tem sido a posição dos governos africanos em relação a questões como Xinjiang, Hong Kong e Tibete?
Nem todos os governos africanos estão do lado da China, mas uma porção significativa sim. No que diz respeito a Hong Kong, metade dos signatários de um documento chinês de apoio às políticas chinesas em Hong Kong eram de África. Mas aqui o mais importante é que os líderes africanos nunca estão do lado europeu e norte-americano em questões como Xinjiang, Hong Kong, o Mar do Sul da China e todos esses temas controversos.
O facto de nem todos os países africanos assinarem em apoio dos chineses não quer dizer que se oponham. Costumo usar a sigla ‘4THKXJS’ para me referir às linhas vermelhas da China – os quatro ‘Ts’ são Taiwan, Tibete, Tiananmen Square (Praça de Tiananmen) e The Communist Party (Partido Comunista Chinês); depois as siglas referem-se a Hong Kong, Xinjiang e South China Sea (Mar do Sul da China). Por que razão qualquer país arriscaria pisar alguma destas linhas vermelhas, quando não há qualquer pressão doméstica para o fazer? O facto de pisarem essa linha e de assinaram o documento norte-americano a criticar Xinjiang pode implicar uma punição abrangente. Neste momento, na Austrália, estão a cortar nas exportações de lacticínios, de carne de vaca, a ameaçar o negócio do minério de ferro, a restringir estudantes e viagens. Esta é toda uma abordagem governamental chinesa. Portanto, é um pouco enganador quando a China diz que não interfere nos assuntos internos dos outros países, porque eles fazem-no. Se um país decidir que quer apoiar qualquer uma destas linhas vermelhas, vai ser duramente golpeado. Então não o fazem porque não é do seu interesse e não têm nada a ganhar.
E foi assim que muitos países muçulmanos expressaram apoio às políticas para Xinjiang.
Tanto quanto sei, não houve um país de maioria muçulmana em todo o mundo que tenha vocalizado uma opinião contra. A Turquia lançou uma leve crítica, a Arábia Saudita não disse nada em Meca, a Indonésia, o maior país muçulmano do mundo, não saiu em defesa [dos uigures]. Em Janeiro deste ano, antes da covid-19, o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros Wang Yi, que começa sempre as suas visitas do ano em África, foi ao Cairo e deixou a mensagem de Xinjiang. O Cairo é o coração da ‘Arab Street’ [rua-árabe; conceito que remete para a opinião pública no mundo árabe], e não só não houve oposição aí, como foi recebido calorosamente pelo governo de Al-Sisi. Não houve condenação. E isso é tudo preparado com antecipação, não existem surpresas na diplomacia chinesa. Ele [Wang Yi] fez todo um evento público no Egipto, um dos maiores países do mundo árabe, sobre a política chinesa para Xinjiang.

Mantendo-nos nas linhas vermelhas. Como olha para a mais recente parceria Somalilândia-Taiwan?
Isso é mesmo muito interessante, tenho escrito muito sobre isto e estava à espera que a China caísse em cima da Somalilândia e fosse implacável com parceiros, como a Dubai Ports World, a empresa que está a construir o porto de Hargeisa, capital da Somalilândia. Eu estava à espera que os chineses lançassem fogo, como costumam fazer com qualquer tema relacionado com Taiwan mas, por alguma razão, não o fizeram. Talvez seja porque a Somalilândia não é tecnicamente um país. Numa conferência, no Ministério dos Negócios Estrangeiros [o porta-voz chinês], Zhao Lijian falou do respeito pelo ‘princípio da uma só China’, mas não disse nada de especial. Eu esperava que reunisse uma série de países em África para denunciar o caso, que recorressem à União Africana para apresentar uma moção a denunciar o caso, mas nada disto aconteceu e, para ser sincero, isso surpreende-me, porque não tem sido a abordagem habitual da China quando Taiwan se tenta expressar enquanto actor independente e autónomo no palco internacional.
Entendo que Taiwan esteja a tentar encontrar espaços para explorar e actuar internacionalmente, mas esses espaços têm sido limitados, cada vez mais, à excepção, obviamente, dos Estados Unidos. No que diz respeito a África, América do Sul, América Central e Sul da Ásia não há mesmo muitos sítios por onde Taiwan se possa mover diplomaticamente em funções oficiais. Por isso mesmo este é um exemplo raro, em muitos sentidos. Talvez por ser tão pequeno e insignificante ninguém esteja a prestar atenção.
Outro tema que fez correr muita tinta nos jornais foram os episódios de discriminação em Abril contra membros das comunidades africanas em Cantão. Como olha para esse momento de hostilidade?
Eu chamaria ruptura. Quando escrevi e fiz o podcast sobre este tema, chamei-lhe de ruptura, e penso que foi a palavra certa para descrever por que se quebrou a inocência da relação entre a China e África, pelo menos do lado africano.
Quando isto aconteceu em Cantão, emergiram duas narrativas. E foi incrível, porque, nos primeiros dias, de repente, os africanos começaram a ver nas redes sociais imagens humilhantes de africanos a dormir ao relento e ao frio nas ruas de Cantão. Tinham sido despejados de casa, de hotéis e a forma como isso foi feito não ajudou – à força. Conhecemos também aquela forma áspera dos chineses falarem às vezes…
Por outro lado, os chineses tinham a sua própria motivação, sob o pretexto da covid. Havia uma razão possível e legitima, que fez com que os proprietários ficassem assustados, porque tinham medo que as autoridades viessem inspeccionar, e tinham pessoas a viver numa espécie de legalidade nebulosa. Muitos não estavam necessariamente ilegais, mas não estavam necessariamente legais, e então os proprietários mandaram-nos sair.
Mas o mais interessante foi quando o porta-voz da Câmara dos Representantes da Nigéria ligou ao embaixador em Abuja, Zhou Pingjian, dois ou três dias depois da crise, e perguntou se tinha visto os vídeos. O embaixador respondeu que não, e as pessoas disseram que estava a mentir, que era impossível não ter visto porque estavam em todo o lado. Bem, se o teu mundo é o Wechat e o Weibo, é possível não ter acesso aos vídeos, porque não vês o Facebook, Twitter ou Whatsapp. Portanto, estamos a trabalhar aqui com dois tipos de fontes diferentes.
Depois, há este momento muito dramático, em que a equipa do porta-voz grava o vídeo do embaixador Zhou a ver os vídeos pela primeira vez. E isto mostra a discrepância entre os dois lados e como operam de dois pontos de vista diferentes.
Agora, aqui é que aconteceu a perda da inocência. A China sempre se apresentou como uma alternativa ao Ocidente e uma das coisas que vai dizer sempre é que nunca colonizou um país, nunca começou uma guerra noutro país, nem invadiu outra nação. Eles têm muito orgulho nisso. Eles têm esta ideia de que ambas [China e África] são regiões em desenvolvimento e, por isso, não vão ser como o Ocidente, especialmente em relação aos negros. Foi isso que disseram na conferência de Bandung, nesses idos tempos revolucionários.
O que se passou em Cantão veio reafirmar que, ao fim ao cabo, as relações da China com África são mesmo ao nível dos governos, porque o que acabou por acontecer em muitos sentidos é que o governo chinês veio explicar, contextualizar, pedir desculpas, expressar remorsos perante os governos africanos, mas nem uma vez Wang Yi ou Xi Jinping apareceram na televisão e dirigiram-se ao povo africano, à sociedade civil, aos jovens. Se o tivessem feito, seria completamente diferente. Nunca os Estados Unidos ou a Europa fizeram isso, porque a verdade é que o tratamento que os migrantes africanos recebem em Barcelona, nos subúrbios de Paris ou de Frankfurt é 50 vezes pior do que o que se passou em Cantão.
O que está aqui em causa é a expectativa. Muitas pessoas em África, quando viram o vídeo, pensaram: sabem, vocês não são tão diferentes, vocês são como todos os outros.
Ao ponto de governos africanos exigirem respostas.
Sim e não. Nem um presidente ou chefe do governo disse algo negativo sobre a China depois do incidente de Cantão. Nem um. Tudo o que se ouviu partiu de ministros dos Negócios Estrangeiros, embaixadores, consulados. E isso é muito importante. Na África do Sul, o governo fê-lo através do DIRCO (Departamento de Relações Internacionais e Cooperação), mas o [presidente] Ramaphosa não disse uma palavra. Todos estes presidentes e primeiros-ministros mantiveram-se em silêncio – têm de manter as relações em aberto e, ao mesmo tempo, têm de poder dizer que fizeram alguma coisa.
Voltando a si, deixou a China no ano passado, mas continua a visitar o país – pelo menos antes desta crise da covid-19. Não sente dificuldade em fazê-lo enquanto jornalista?
Não, não tenho problemas. Tenho uma relação estranha com o governo chinês. Por alguma razão, o meu portal continua a funcionar passados todos estes anos, mesmo com as conversas que aqui tivemos sobre temas como Xinjiang ou o Mar do Sul da China. Penso que o valorizam, toleram as críticas que faço, porque ajo da mesma forma com os Estados Unidos e com o Ocidente. Creio que valorizam o facto de não ter uma agenda. Não tenho uma visão emocional da China, como muitas pessoas têm, seja ela boa ou má. Para mim, é apenas uma história – uma história complicada. Tenho um visto profissional no meu passaporte, por isso não finjo que sou turista. Vou a fóruns, encontros, falo com pessoas, tenho entrado e saído da China desde 1989, sou uma entidade familiar para eles, o meu ficheiro deve ser muito longo por todos os anos que aí passei e nunca tive problemas ou preocupações. Tive algumas questões, mas nada sério. Não é o mesmo do que entrar como jornalista do El Pais ou do New York Times, esse é um jornalismo que sobressai mais.
E estamos a assistir à saída de muitos jornalistas estrangeiros da China.
Sim, é horrível e é tão infeliz, demonstra pouca visão do lado chinês. Acaba com a informação que o mundo lá fora tem da China. E isso só vem piorar tudo.
THE CHINA AFRICA PROJECT (CAP)
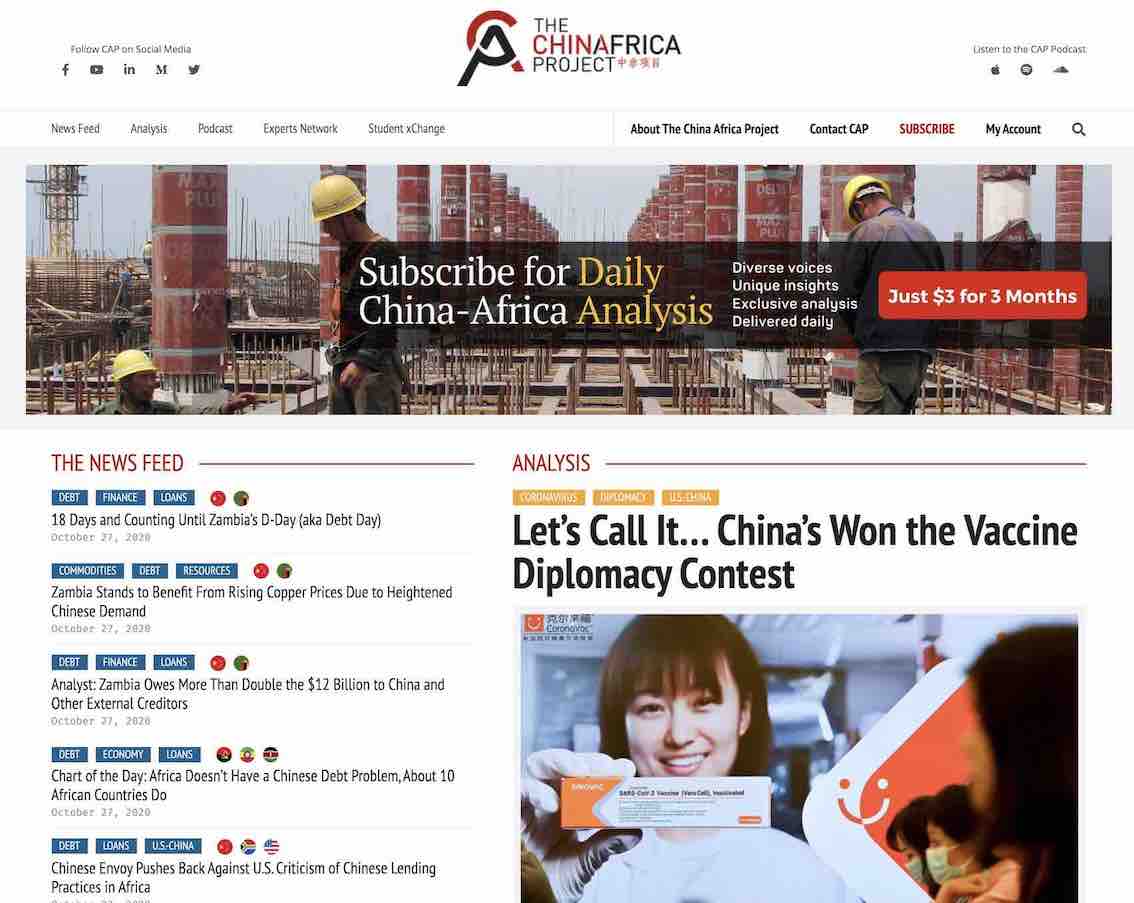 Criado em 2010 pelo jornalista Eric Olander, dos Estados Unidos, e o académico Cobus van Staden, da África do Sul, o portal “The China Africa Project” explora as várias facetas da presença chinesa em África. Além da actualidade das relações sino-africanas, o website produz uma newsletter diária, com notícias e análise, dedicada a um público mais especializado – decisores políticos, instituições bancárias, organizações internacionais ou representações diplomáticas; e um podcast, em que se discutem todos os aspectos do envolvimento chinês no continente africano. O CAP está também nas várias redes sociais – no LinkedIn tem mais de 850 mil seguidores.
Criado em 2010 pelo jornalista Eric Olander, dos Estados Unidos, e o académico Cobus van Staden, da África do Sul, o portal “The China Africa Project” explora as várias facetas da presença chinesa em África. Além da actualidade das relações sino-africanas, o website produz uma newsletter diária, com notícias e análise, dedicada a um público mais especializado – decisores políticos, instituições bancárias, organizações internacionais ou representações diplomáticas; e um podcast, em que se discutem todos os aspectos do envolvimento chinês no continente africano. O CAP está também nas várias redes sociais – no LinkedIn tem mais de 850 mil seguidores.
Eric Olander realça a diversa rede de colaboradores e convidados: “Se olhar para os convidados dos nossos podcasts, 90 a 95 por cento são predominantemente da China e de África, são desproporcionalmente mulheres e jovens. Estamos a tentar trazer para aqui estas vozes sub-representadas, não queremos conversas infinitas com homens de meia-idade brancos, analistas de Washington e Nova Iorque”.
“Para entender a África hoje, tem de se perceber a China actual, e isso não não é possível se não se entender as vozes destas pessoas jovens, destas mulheres, todas estas vozes diferentes”, continua.
Para o futuro, o jornalista vai avançar com versões do CAP nas línguas francesa, árabe e portuguesa. “Queremos ajudar, informar e educar as pessoas que têm interesse no tema, para que elas possam tomar as suas próprias decisões. O nosso trabalho não é dizer como devem pensar sobre estes assuntos, mas dar a conhecer toda a complexidade envolvida”.











